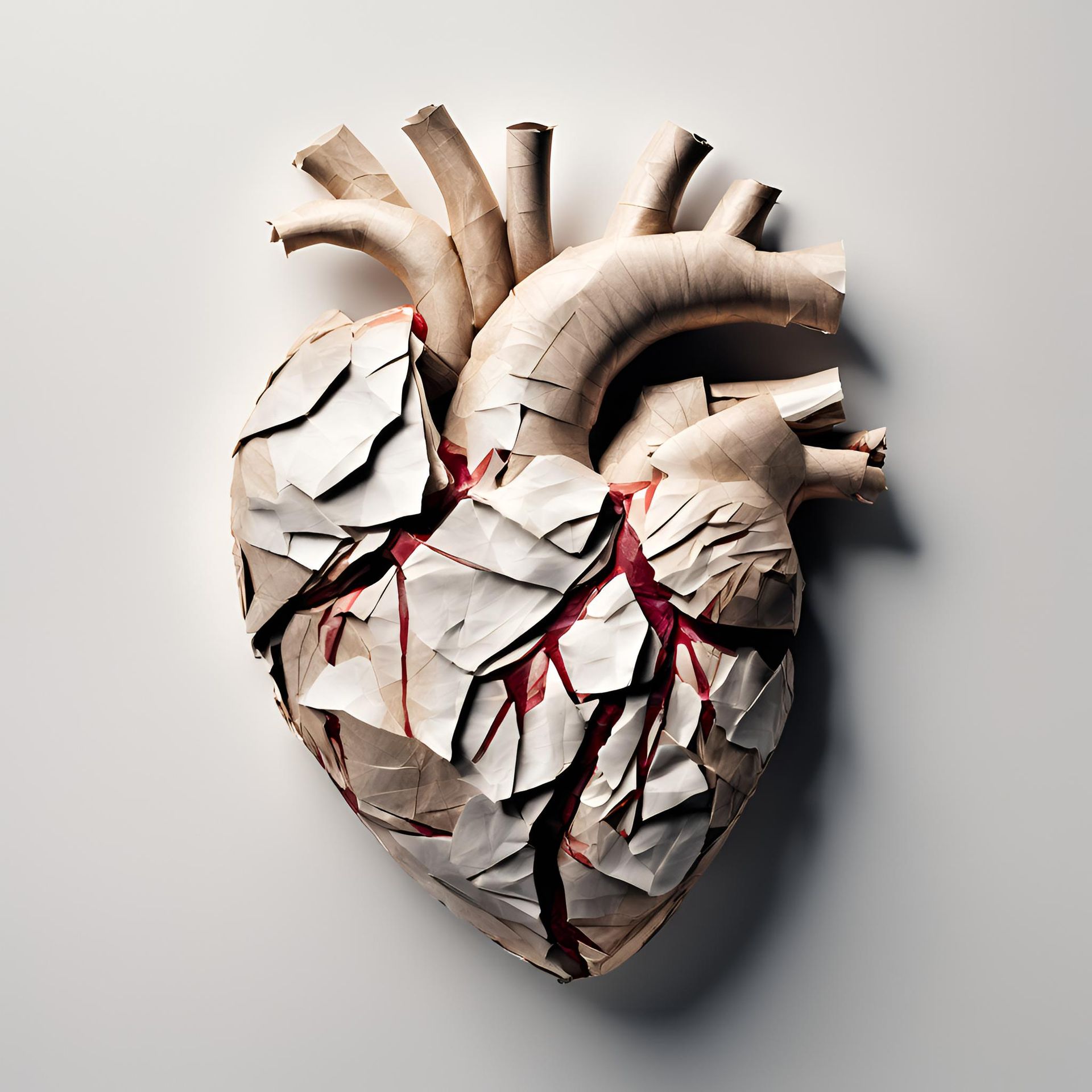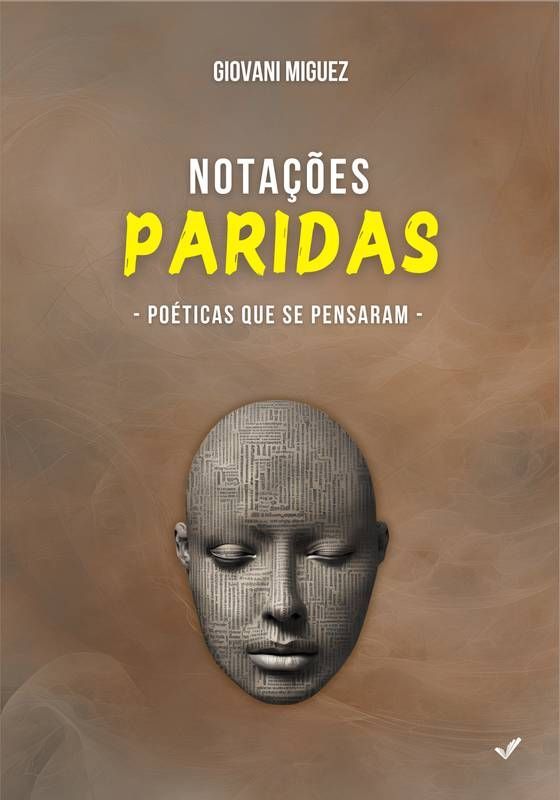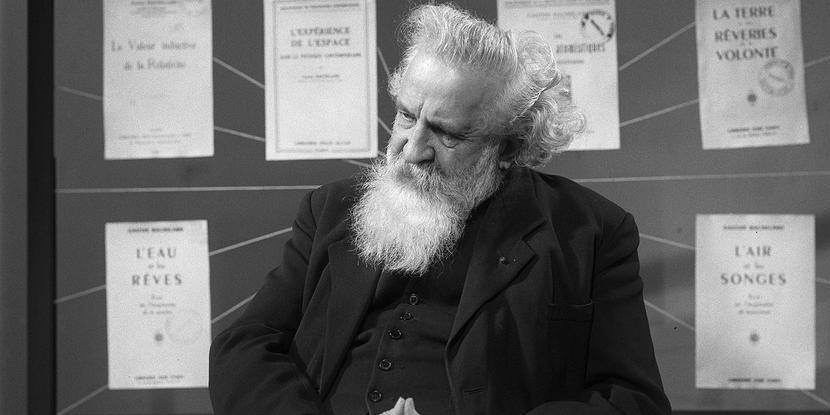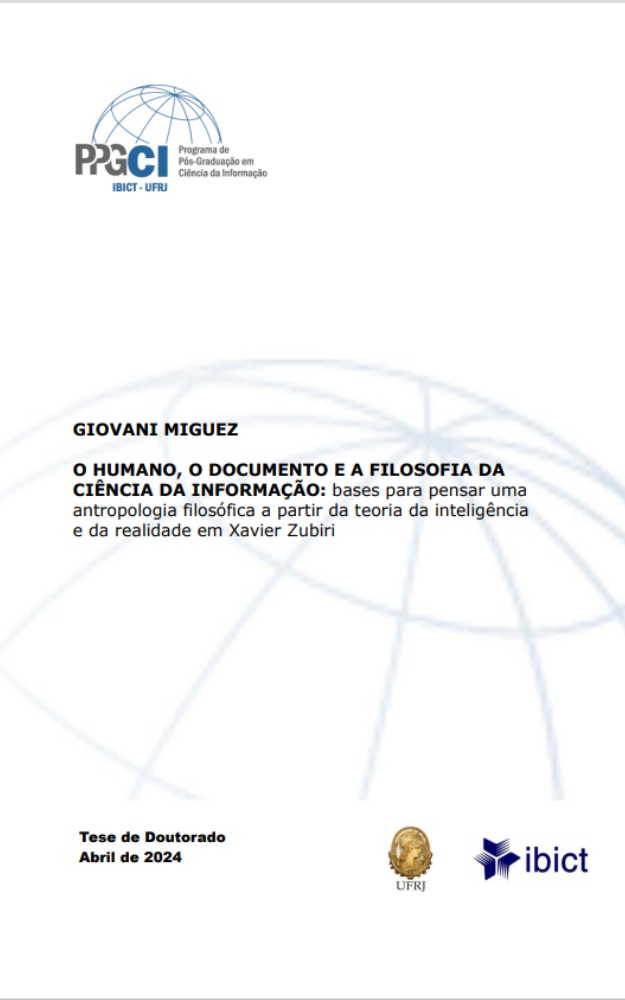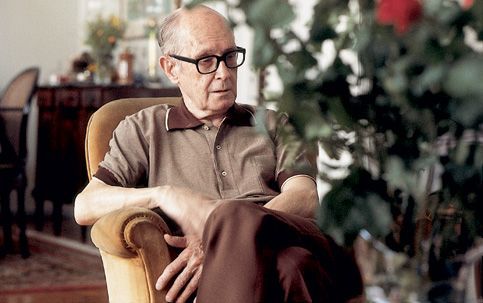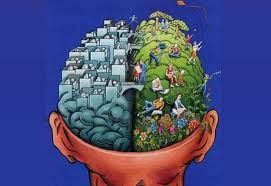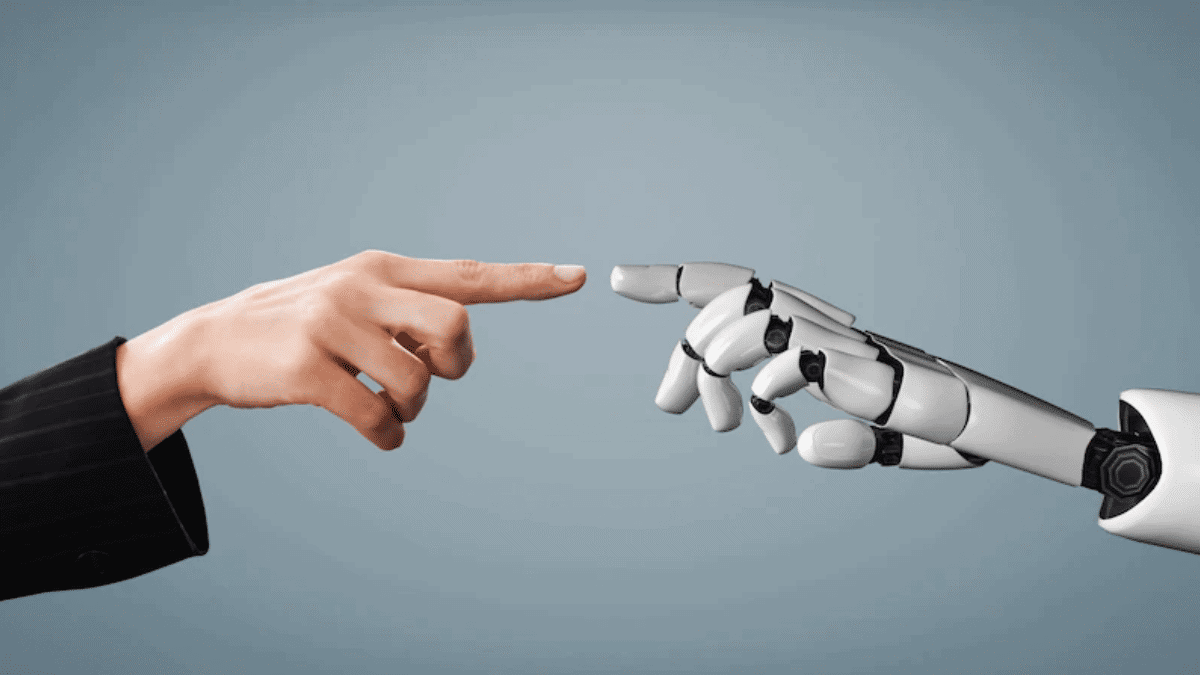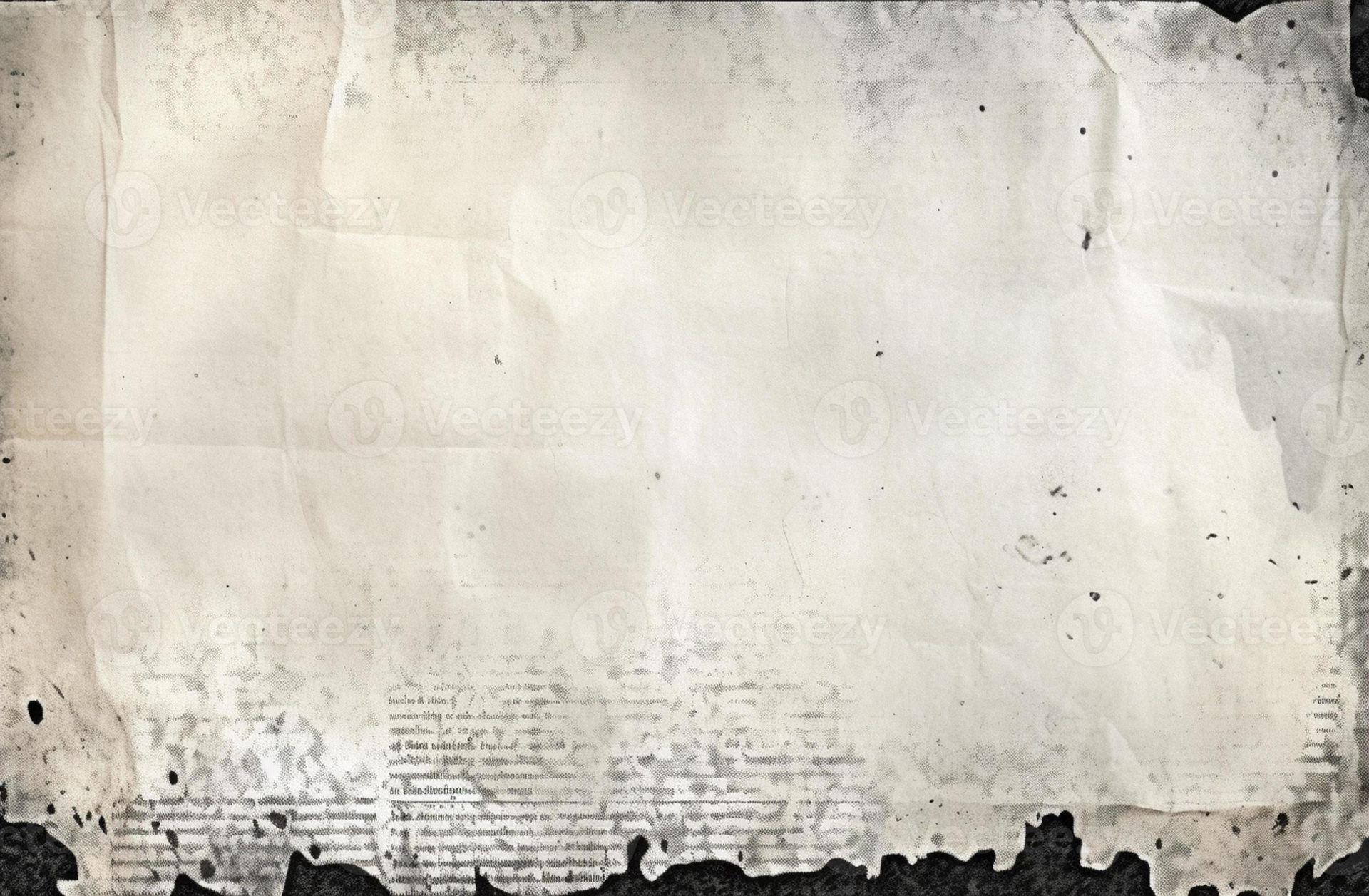ENTRE LIVROS E TELAS
Um pai, uma pergunta.

Outro dia, enquanto via meu filho deslizar o dedo pela tela como quem procura o mundo com a ponta do polegar, perguntei a mim mesmo — com um certo desespero que não confessa seu nome — onde foi que eu errei. Ou melhor: onde foi que nós erramos?
Herdei da infância o cheiro dos livros empoeirados, as bibliotecas silenciosas, a autoridade das palavras impressas. Meus heróis nasceram das páginas, não dos vídeos. Mas hoje, diante do olhar disperso do meu filho, percebo que aquilo que para mim era sagrado, para ele soa estranho, como uma língua que já não se fala mais em casa.
Eu tentei. Comprei livros, li em voz alta, inventei histórias, construí noites com capítulos. Mas, em algum momento — talvez entre um boletim digital e um desenho automático no YouTube — percebi que a leitura se tornava cada vez mais uma imposição do que um prazer. E quando o prazer se ausenta, o livro adoece.
Mas não é só dentro de casa que isso acontece. Lá fora, o Estado também se perdeu. Ou, talvez, tenha apenas desistido. Não houve política pública capaz de tornar o livro uma alternativa real ao celular. Faltam bibliotecas vivas, falta mediação, falta formação de professores leitores, falta fomento — falta vontade.
A recente proibição do uso de celulares nas escolas brasileiras parece ser, à primeira vista, um gesto de coragem. Mas o gesto não basta sem conteúdo. Cortar o mal sem oferecer um bem é amputar esperança. Proibir as telas não transforma o livro em desejo. É preciso mais: é preciso sedução, é preciso que a leitura volte a ser uma experiência compartilhada, não um castigo escolar.
A verdade é que entregamos nossos filhos aos dispositivos cada vez mais cedo. Não por maldade, nem por negligência, mas por cansaço, por comodidade, por falta de alternativas viáveis e, em muitos casos, por ignorância sobre as consequências. Quando damos um tablet a uma criança de dois anos, estamos, sem saber, moldando sua relação futura com o silêncio, com a imaginação, com o esforço.
E é aí que me dói mais profundamente: a formação de um leitor começa muito antes da alfabetização. Começa quando uma criança vê alguém que ama se emocionar diante de uma história. Começa no colo, na repetição dos contos, na curiosidade que brota sem obrigação. E nesse ponto, admito, falhei — como pai, como leitor, como cidadão.
Mas não escrevo estas linhas para me penitenciar, nem para apontar culpados. Escrevo porque ainda acredito na possibilidade de mudar. Acredito que todo fracasso carrega uma semente de reinício, se for olhado com honestidade. Acredito que podemos (re)aprender a ensinar o gosto pela leitura. Que podemos transformar a casa em biblioteca afetiva, a escola em território de descobertas e o Estado em parceiro da palavra, e não do algoritmo.
Talvez o caminho não seja tirar os celulares das mãos das crianças, mas colocar nas mesmas mãos um livro que as conquiste. Um livro que as veja. Que fale de suas dúvidas, que cante suas alegrias, que não as julgue por não saberem ler ainda — mas as convide, como Sócrates convidava seus interlocutores, a buscar por si mesmas o sentido das coisas.
No fundo, a grande questão permanece: que tipo de humanidade estamos formando quando deixamos a imaginação ser substituída pela distração? Que mundo queremos, se não somos capazes de ensinar nossos filhos a nomear o mundo com as próprias palavras?
Talvez ainda dê tempo.
Talvez não seja tarde. Mas é urgente que comecemos agora — com um livro aberto, um olhar presente, e uma pergunta viva no coração.